
Na revista Mondo Bizarre #24 (Nov 2005):

CLÁSSICOS
DISCOS
The Smiths
The Queen is Dead (Rough Trade, 1986)
Na edição de Abril de 1994 da revista Q, olhando para trás como poucas vezes o fez durante vários anos, Stephen Patrick Morrissey afirmava sobre os Smiths e o seu terceiro álbum: “Algumas das coisas que fizemos não são tão boas como são recordadas. The Queen is Dead não é a nossa obra-prima. Eu sei disso. Eu estava lá. Eu forneci as sandes”. Descontado o tom irónico-jocoso característico do cantor, sobra um facto recorrente no que à relação da música dos Smiths com quem dela se enamorou para sempre diz respeito: emissor e receptor não concordam no teor da mensagem. “The Queen is Dead”, editado pelos Smiths em 1986, será sempre visto como a obra-prima que Morrissey desvaloriza na citada entrevista.
O facto é, porém, menos relevante quando se pensa que os Smiths, e particularmente o seu vocalista, foram sem pingo de exagero os porta-vozes de uma geração inglesa revoltada com a política do país e, num plano mais genérico, portadora das costumeiras dores de transição da adolescência para a idade adulta. Morrissey, como nenhum outro músico e letrista em Inglaterra, colocava na sua voz arrebatadora e chorosa as palavras a que milhares de pessoas não conseguiam dar sentido. E “The Queen is Dead”, que sucedia ao também militante “Meat is Murder” e antecedia o derradeiro “Strangeways, Here We Come”, é um colosso de rebeldia pop adornada pela guitarra de um iluminado, Johnny Marr, compositor de sempre dos Smiths.
Morrissey & Marr, a mais importante parelha britânica depois de Lennon & McCartney, fizeram de “The Queen is Dead” um repasto agri-doce: por um lado, Morrissey acusa elevadas taxas de corrosão e desencanto; por outro, Johnny Marr faz desfilar suavemente algumas das mais encantatórias canções que há muito deixaram de viver apenas na década de 80, como são os casos de “Bigmouth Strikes Again”, “The Boy With The Thorn In His Side” ou o onírico “There Is A Light That Never Goes Out”. Às quais se juntam, por exemplo, a canção que dá título ao disco e que em tudo se demarca da dolência negligente de muita da pop da época e, a fechar, um surreal “Some Girls Are Bigger Than Others”, contraste profundo entre os dedos mágicos de Marr e a diletância com que Morrissey pontualmente encarava a sua poesia. Em “Cemetry Gates”, por exemplo, a sua escrita leva à de outros ao revelar a sua preferência numa contenda entre John Keats e William Butler Yeats, de um lado, e Oscar Wilde, do outro.
Não bastando a sua magnificência musical, “The Queen is Dead” é ainda um instrumento pedagógico na descoberta da História e da cultura inglesas. Se não for sempre levado ao pé da letra. Pedro Gonçalves

Franz Ferdinand
You Could Have It So Much Better (Domino/Edel)
Não obstante a residência na cidade escocesa de Glasgow proporcionar aos Franz Ferdinand uma saudável distância da fogueira de vaidades e da usina de aspirantes a talentos que caracteriza o cerne da indústria do disco britânica, não foi difícil vaticinar que a desconfiança e algum cinismo se abatessem sobre o quarteto quando chegasse a altura de dar seguimento ao fracturante “Franz Ferdinand”. Sobretudo na Europa, onde o preconceito se contagia facilmente a partir de Inglaterra, havia quem esperasse o tombo monumental em “You Could Have It So Much Better”. Problema: os Franz Ferdinand são, musicalmente, um fenómeno especialíssimo, sozinhos nesse delicioso limbo onde a diletância e a maravilha científica da coisa pop se fundem em resultados estupidamente ricos do lado melódico e do lado rítmico.
De “Franz Ferdinand” se disse, e sem exagero, ser uma colecção de 11 potenciais singles, viagem por uma montanha russa que nunca chega a descer, mantendo-se lá em cima, onde a respiração acelera e o corpo arde em frenesim. Que se diga desde logo que “You Could Have It So Much Better” não produz o mesmo efeito. As responsabilidades do facto são repartidas por dois tipos de factores, internos e externos. No caso dos primeiros, identificam-se canções que se esgotam com o passar do tempo, arremedos sumptuosos de canções que poderiam ser temas não aproveitados para “Franz Ferdinand”. Como o punk anónimo de “Evil and a Heathen”, o quadrado circuito fechado de “Well That Was Easy” ou o vagamente arrivista “Outsiders”, que fecha o álbum. O resto são, mais uma vez, boas notícias.
Selo de qualidade dos Franz Ferdinand, as estonteantes deambulações pelos riffs de guitarra angulares e as melodias caprichosamente simples na voz de Alex Kapranos mantêm-se intocáveis em “You Could Have It So Much Better”. A que se acrescentam, e aí residirá a riqueza maior deste segundo álbum, estilhaços baladeiros de encanto superior. Se “Eleanor Put Your Boots On” é, conceptualmente, uma reminiscência de “Eleanor Rigby”, está ainda por saber, mas a grandiloquente aproximação aos Beatles circa “I Am The Walrus” é perfeitamente irressistível. Como o é, sem o recurso ao piano, o espartano “Walk Away”, ritmo e guitarra em passeio de pára-arranca que poderia remeter para os Pixies até pela forma mágica com que Alex Kapranos dialoga com as suas seis cordas electrificadas. Ou ainda o regresso aos Beatles (calma: o caso parece estar controlado) num cristalino embalar ao som de “Fade Together”.
Com canções como “The Fallen”, “Do You Want To”, “This Boy”, “What You Meant” e “I’m Your Villain” a colocar-se sem esforço ao nível do melhor de “Franz Ferdinand”, não é difícil imaginar que nada de mau se passa com a melhor coisinha que aconteceu ao universo pop/rock britânico desde a Beta Band e os Belle & Sebastian.
(8) PG
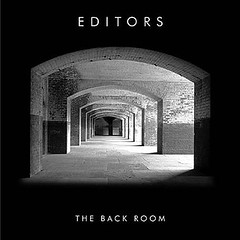
Editors
The Back Room (Kitchenware)
Nos tempos que correm, bem como nos mais recentes, a aparente necessidade de revitalização estética e comercial de um rock dito alternativo deu inevitável origem à edição de objectos duvidosos alojados numa qualquer lógica de “movimento”. Torna-se natural, portanto, o júbilo diante daquilo que quer e logra ser distintivo, próprio, intransmissível.
Aí se situam neste caso os ingleses Editors, aos quais se tem aplicado violentamente o carimbo “Interpol wannabes”. Descontada a estética gráfica a remeter para uns Joy Division, os Editors são muito mais a recordação de uns anos 80 maravilhosamente cinzentos do que a última carruagem de um comboio acabado de partir. Têm a grandiloquência simplificada de uns Echo & The Bunnymen, como têm a urgência de uns R.E.M. em início de vida. São uma entidade anti-fashion construída sobre guitarras ora aveludadas ora angulares e completada com a voz de Tom Smith, misto de inocência melódica e o desencanto de quem sabe demais. Experimente-se ouvi-los em vez de cortar os pulsos.
(7) PG

Black Rebel Motorcycle Club
Howl (Chrysalis/EMI)
Os Black Rebel Motorcycle Club são a típica banda que, caso ficasse cronicamente presa na dualidade preto-branco, acabaria por implodir, morrendo ou tornando-se absolutamente irrelevante. Em dois álbuns consumiram todo o oxigénio que partilhavam com o ruído circular de uns Jesus & Mary Chain e, em menor dose, de uns Spacemen 3.
Vai-se a ver e os Black Rebel Motorcycle Club não eram apenas aquilo, um universo a duas dimensões. É por isso que “Howl”, o terceiro disco, constará como o mais importante na afirmação musical do trio de São Francisco. Chamar-lhe um álbum acústico é espartilhar a sua riqueza, mas pode ser um princípio para compreender a luminosidade de “Howl”. Saiba-se que a coisa se inicia ao som de um gospel embriagado e a duas vozes chamado “Shuffle Your Feet”. Confirmado o nome da banda no objecto por via das dúvidas, embarca-se numa diáspora de garimpeiros pela América desse gospel mas também da country e dos blues. São as cordas metálicas alinhadas com o divino, são as harmonias vocais que transportam para o paraíso, são as marcações rítmicas que moldam o estado de espírito, é a harmónica de Dylan. E tantas cores…
(8) PG

The Raveonettes
Pretty in Black (Columbia/Sony BMG)
Fartos dos conceitos musicais que se auto-impuseram em registos anteriores (canções com três acordes e menos de três minutos, etc.), os Raveonettes – ou seja, Sune Rose Wagner e Sharin Foo – trataram de fazer de “Pretty in Black” o seu Grito do Ipiranga, espécie de prova de vida que o mundo lhes solicitava. Se o conseguiram, isso é outra conversa. Muito bem, conseguiram-no.
Já não parece sempre Natal no mundo dos Raveonettes. E isso é bom. Ao invés de continuarem a adornar um imaginário residente nos anos 50 do século XX, a dupla dinamarquesa explora diferentes formas de uma mesma coisa pop – de uma circularidade diáfana a uma evidência in your face, de um anacronismo elegante a um subtil namoro electrónico.
Veja-se bem que Martin Rev (Suicide), Maureen Tucker (Velvet Underground) e Ronnie Spector andam (mesmo) por aqui. Mas não são determinantes em circunstância alguma. Os Raveonettes travestiram-se, mas isso não os torna muito mais bonitos do que eram. Talvez um nadinha, coisa pouca.
(6) PG
Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.


Sem comentários:
Enviar um comentário